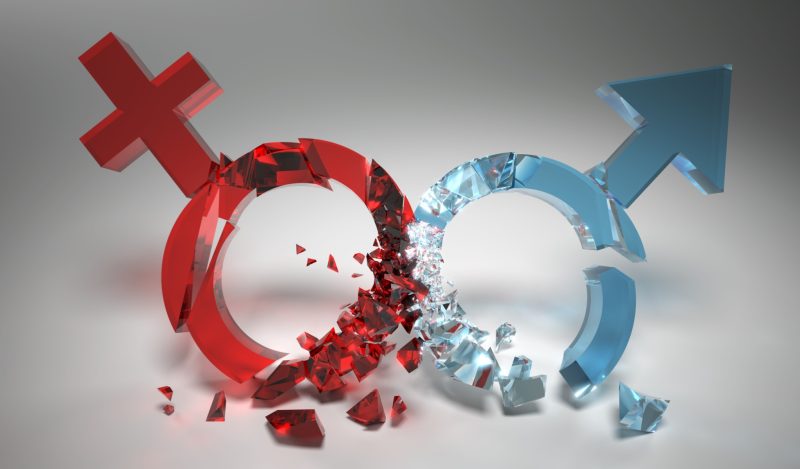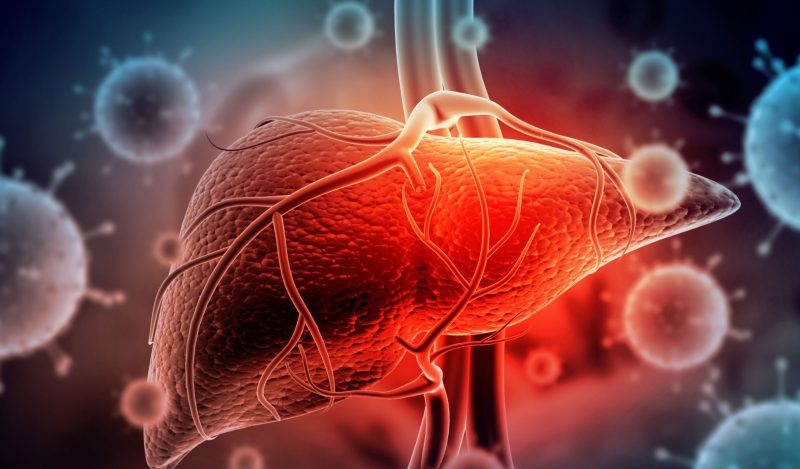À medida que o inverno se aproxima – a menos que você esteja perto do equador – as noites ficam mais longas e o brilho do sol perde o calor. Para grande parte do mundo, o ambiente circundante torna-se hostil e até mortal. As paisagens parecem vazias e perdem a cor. Poucas frutas e vegetais continuam a produzir alimentos. Vento, frio, gelo e neve tornam as tarefas diárias simples cansativas, difíceis e às vezes impossíveis. A roupa é algo que precisa ser cuidadosamente contemplado, e geralmente em camadas, sufocando a humanidade do movimento.
Nas latitudes mais setentrionais, a escuridão nunca dá lugar totalmente ao dia, levando a uma consciência sempre presente da noite invasora. Nesses lugares, o inverno surge como um lembrete assustador e cruel de que o mundo nem sempre é um lugar agradável. Pode ser perigoso e cruel, e no final das contas ninguém se importa se você vive ou morre.
Isto é, ninguém, exceto talvez sua família e sua comunidade; as pessoas com quem seu sustento está interligado e interdependente e que compartilham seu amor pelo lar.
As férias de inverno enfatizam assim o retiro para a bolha segura e reconfortante do lar. Acendemos velas, acendemos fogueiras e penduramos luzes coloridas para afastar o frio e a escuridão. Reunimo-nos para partilhar refeições fartas com os nossos entes queridos, contar histórias, cantar canções e dar continuidade a tradições antigas. Buscamos o aconchegante, o confortável, o familiar, o acolhedor e o bem iluminado, e os braços acolhedores dos nossos amigos e aliados. Tudo isso serve como um lembrete de que a esperança vive apesar do ataque anual de um mundo que parece querer acabar com a nossa existência e apesar do aparentemente eterno e brutal reinado da noite.
Poeticamente, o inverno está associado à desgraça e ao pavor iminentes. E este ano, mais do que nunca, há uma sensação de pavor profundo e coletivo que assombra os inquilinos de todos os cantos do mundo. Os mais isolados, ou os mais sonâmbulos entre nós, talvez, não sintam o cheiro da brisa. Mas muitos de nós não conseguimos escapar à sensação de que uma energia hostil e sufocante está a corroer rapidamente os espaços familiares, calorosos e sagrados que outrora chamávamos de lar.
Assistimos a velhos locais e rituais adorados serem anulados, um por um, como aldeões em um jogo de Máfia; as infra-estruturas e os sistemas dos quais dependemos parecem não funcionar ou oscilar à beira do caos e do colapso; a boa vontade e a hospitalidade humanas parecem ter evaporado, e em seu lugar vemos os olhos brilhantes de chacais e hienas, esperando apenas pelo nosso menor tropeço como uma deixa para atacar e vasculhar tudo o que temos.
Parece que as pessoas que nos rodeiam querem nos fazer tropeçar, para que possam justificar a traição; recebemos cobranças e multas por coisas que nunca pedimos ou por crimes que nunca cometemos; vivemos numa economia de golpistas, onde os mais maliciosos e manipuladores recebem aplausos e reforços sociais, muitas vezes da própria lei, enquanto os honrados são forçados a dar e dar para alimentar o buraco negro da ganância insaciável, sempre presente e arrasadora.
Todos os dias há novas leis que devemos cumprir, para que o homem da lei não venha e tome posse daquilo que trabalhámos as nossas vidas para construir; novos impostos e taxas surgem como ervas daninhas aplicadas a todos os bens e serviços dos quais confiamos; e todo luxo ou sorte inesperada que nos chega imediatamente por sorte ou trabalho árduo, ao que parece, deve ser gasto em ossos para todos os cães famintos e ferozes que se alinham na avenida.
Este poltergeist latejante de pavor me acompanha incessantemente, e não estou sozinho nisso. Tenho certeza de que meus leitores o entendem tão bem que não preciso explicar sua origem. Mas é cansativo carregar tal fardo e sentir que não há lugar para onde recuar e abandonar o seu domínio – nem mesmo o próprio espaço de vida.
E foi assim que, recentemente, parado na minha cozinha, olhando pela janela para um mundo escuro de crescente hostilidade e incerteza, a exaustão do ano anterior tomou conta de mim. E, de repente, fui dominado por um desejo intenso por um lugar que – para meu horror – percebi que não tem correspondência no mundo real. Virei-me para o meu companheiro e disse em voz alta: “Quero ir para casa”.
Não precisei esclarecer meu significado. Segundos depois, veio a resposta calma e triste: “Eu também”.
Sou um cidadão americano residente no México. Então, pode-se pensar que eu estava simplesmente sentindo uma saudade natural e nostálgica do lugar onde nasci e cresci. Mas quando senti, pensei e pronunciei a frase “Quero ir para casa”, não estava imaginando uma determinada cidade, estado ou bairro dos Estados Unidos.
Em vez disso, eu estava ansiando por um noção de casa que engloba todo o sentido da palavra: procurei um local de estabilidade física e segurança, confortável e adequado às minhas necessidades; Eu ansiava por um ambiente familiar e amigável, desprovido de trapaceiros, mesquinhos egoístas, mentirosos e mentes indiferentes ou hostis; Queria estar em algum lugar escondido do mundo, onde a paz e o silêncio da natureza bloqueiem todo o ruído e tendências maquiavélicas do Homem; e acima de tudo, eu queria um lugar de descanso genuíno e final do pavor invernal e da noite congelada que parece ter tomado conta da alma coletiva.
O lugar que eu desejava era um lugar onde a autossuficiência fosse legal; onde não era ilegal buscar e satisfazer as necessidades humanas básicas. Onde se pudesse construir a própria casa, cultivar e caçar a própria comida e viver em paz e domínio; onde ninguém lhe disse como viver ou como organizar e enfeitar sua própria morada.
Seria um lugar onde as pessoas valorizassem a hospitalidade e a beleza, e onde a infra-estrutura que sustenta a vida fosse construída ao serviço da alma humana, em vez de à inovação corporativa. Onde, regra geral, não se esperava que as pessoas pagassem taxas a parasitas pelo privilégio de serem exploradas e abusadas, e onde a moeda fiduciária de rostos amigos encontraria o seu apoio no padrão-ouro do coração íntegro.
Esse tipo de “lar” era, na verdade, o lar que eu desejava. Mas onde, hoje, existe tal lugar? Se você tem direitos humanos básicos, por acaso, em alguma aldeia remota do globo, garanto que há alguém trabalhando horas extras para desviá-los de você. E naquele momento, ao contemplar isto, senti como se tivesse olhado para trás, apenas para vislumbrar os destroços em chamas da cidade onde nasci e cresci. De repente, senti um enjôo no estômago, sabendo que o lugar que meu coração desejava talvez estivesse perdido para sempre no tempo, arrancado dos arquivos de uma época diferente.
A palavra que acredito que mais se aproxima do sentimento que descrevo seria a palavra galesa Hiraeth, que denota saudade, tristeza ou saudade de casa - muitas vezes de um sentimento, pessoa ou espírito de uma época ou lugar que não existe mais, ou talvez que nunca existiu. É uma palavra que os exilados galeses usam frequentemente para falar da sua saudade do próprio País de Gales; mas embora seja um conceito distintamente galês, ligado a noções de cultura e história galesas, não se limita necessariamente a esse contexto.
Nas palavras A escritora galesa Jane Fraser"Hiraeth me dá uma sensação do irrecuperável e do irreversível: a pungência que está encapsulada em “era uma vez” ou “era uma vez” - o tempo passa e os momentos nunca mais poderão ser vividos. '"
Enquanto Fabricante de cobertores galeses FelinFach diz em seu site: “Uma tentativa de descrever hiraeth em inglês diz que é “um desejo de estar onde seu espírito vive”."
Para muitos exilados galeses, isto é uma saudade das paisagens físicas distintas da sua terra natal, como Ano Wyddfa, as costas de Pembrokeshire, ou o Sinalizadores Brecon. Mas sobreposto às imagens destes locais amados há geralmente algo mais: uma nostalgia pela família, amizade e comunidade que existe no topo destes espaços, e pela textura rica e viva da história, poesia e mito representados nos seus mapas. . Como Sioned Davies, professor de galês na Universidade de Cardiff, observa"Onde quer que você vá no País de Gales, há histórias ligadas à terra."
Lily Crossley-Baxter, escrevendo sobre seu próprio senso de hiraeth enquanto vivia exilado no Japão, expande esta ideia: “Embora o País de Gales seja um lugar para onde voltar facilmente, sei que não é realmente a zona portuária que desejo ou as belas vistas. O que sinto falta é a sensação única de estar em casa, talvez de uma forma que - anos depois, com amigos espalhados e minha família morando em outro lugar - agora é inatingível, mas mesmo assim é onde quero estar."
Em particular, hiraeth é frequentemente associado a um pesar intenso pelo desaparecimento da cultura, língua ou tradição, ou à perda de certos modos de vida familiares e amados – muitas vezes como resultado de uma conquista brutal.
Autor Jon Gower elabora:
Tenho a noção um tanto fantasiosa de que ‘hiraeth’ pode ser um [sic] luto lento e longo pela perda de uma língua. Quando você pensa que nomes como Glasgow e Strathclyde na Escócia derivam de Glas Gae e Ystrad Clud, ou que 'Avon' em Stratford-upon-Avon vem do galês 'afon' você tem a noção de uma língua que já foi falada uma enorme extensão da Grã-Bretanha. Mas o tempo assistiu a uma enorme contracção [. . .] Talvez em algum lugar lá no fundo, sintamos essa diminuição e entrincheiramento e hiraeth é uma espécie de abreviação para uma espécie de sofrimento linguístico, à medida que a língua se perde ao longo dos séculos ou é levada a recuar por forças históricas, ou por soldados .
Até certo ponto, a mudança é uma parte natural da vida e da experiência humana. E certamente há um momento para se aventurar em território hostil e desconhecido. Isto, afinal, é a essência da “jornada do herói” campbelliana—o tema de todos os mitos e a história final da condição humana. Devemos, por vezes, desafiar-nos a enfrentar os nossos medos e alcançar o desconhecido – pois é assim que encontramos novas oportunidades, sobrevivemos, nos adaptamos e colocamos os nossos espíritos em harmonia com um universo maior.
Mas no final do ciclo Campbelliano, o herói ou aventureiro deve voltar para casa. E isto é tão vital para o bom funcionamento da alma como o é o resto da aventura. Pois “casa” é onde o espírito é reabastecido, nutrido e fortalecido para que o ciclo possa recomeçar; onde lições e histórias são partilhadas, e onde os amigos e a família lembram ao viajante cansado o significado e a razão da sua bravura.
Uma “casa”, idealmente, deveria funcionar como um local de refúgio e de restauração. Deveria ser um lugar, de fato, “onde […] o espírito vive”. Deveria ser um lugar onde nos sentíssemos livres para tirar os sapatos, ser nós mesmos e retirar os guardas e as máscaras que colocamos para nos proteger dos caprichos de estranhos. “Casa”, acima de tudo, é um lugar onde podemos voltar aos ritmos e canções da tradição, do ritual e dos marcos, e desfrutar do conforto habitual de paisagens, hábitos e rostos familiares.
Estes elementos entrelaçados e em camadas – pessoas, paisagens, linguagem, histórias e a lembrança de uma história enraizada e contínua – contribuem para a sensação de que a vida tem continuidade e significado. Obtemos uma satisfação insubstituível ao observar esses símbolos significativos acumularem-se à nossa volta, ao longo das estações da vida humana, de forma recorrente e cumulativa.
A sensação de lar geralmente localiza seu epicentro no local de moradia imediato. Mas, tal como um terramoto, estende-se com intensidade gradualmente decrescente, estendendo-se – mais ou menos – a todas as características das paisagens que encontramos no decurso das rotinas quotidianas. Algumas pessoas definem o seu sentido de lar de forma mais ampla ou restrita do que outras; alguns mais rasos e outros mais profundos; e quase sempre a intensidade desses sentimentos muda de acordo com o contexto.
Mas, em geral, podemos sentir uma sensação de “casa” quando nos encontramos dentro das fronteiras da nossa nação; talvez um sentimento mais forte de “lar” dentro dos limites da cidade onde crescemos, temos história familiar ou moramos atualmente; e a sensação mais forte de lar que geralmente sentimos em nossa vizinhança ou residência física.
Algumas pessoas acham que o seu sentido de “lar” está mais ligado a pessoas e a maneirismos específicos do que a lugares; mas quase sempre há algum componente geoespacial envolvido. Pois as rotinas diárias de nossas vidas acontecem, sempre, em meio ao cenário do reino físico; e, portanto, inevitavelmente nos encontramos conectados a padrões e ritmos cartograficamente definidos.
Procuramos, portanto, lugares e ambientes que confortem e alimentem o nosso espírito e as nossas inclinações naturais. Talvez estas se manifestem como abundantes paisagens naturais adornadas com florestas, mares, montanhas ou fazendas; ou talvez ansiamos pela infra-estrutura convenientemente densa de uma cidade bem planeada, com os seus elegantes sistemas de metro, cafés em cada esquina e uma selecção cosmopolita de comodidades.
Talvez queiramos grandes janelas em nossa casa, para permitir a entrada de luz e belas vistas; ou talvez uma cozinha bem equipada, ou parques próximos, boas escolas ou deslocamentos curtos e pitorescos. Ou talvez queiramos situar-nos perto de velhos amigos, familiares, de uma congregação religiosa acolhedora ou do centro de um cenário social, profissional ou artístico preferido. Ou, talvez, procuremos, em vez disso, os confins do mundo conhecido, para que possamos simplesmente viver sozinhos com os nossos pensamentos.
Mas vivemos, ao que parece, num mundo cada vez mais desumano. Os humanos são os seus habitantes, claro; e ainda assim, definitivamente, não foi projetado para nós. Cada vez mais, todos os aspectos da vida humana estão a ser renegociados como instrumentos para a prossecução de objectivos frios, utilitários e impessoais; estão a ser privatizadas e comercializadas como mercadorias por entidades distantes e sem rosto; ou estão a ser transformados em jogos estatísticos e objectos destinados à renovação imperialista. Cada vez mais, estes as prioridades vêm em primeiro lugar, tanto legalmente como na acção e discurso social; ao mesmo tempo que construir e nutrir um sentimento de lar humano e comovente torna-se, na melhor das hipóteses, uma reflexão tardia - na pior das hipóteses, um vôo de fantasia egoísta e vergonhoso.
E assim, por exemplo, encontramos pessoas como a psicóloga e pesquisadora Dra. Sapna Cheryan, que sugere que “seguir suas paixões [ao selecionar uma carreira] muitas vezes acaba sendo uma má ideia." A razão? Isso resulta numa enorme disparidade estatística entre homens e mulheres.
"Uma nova pesquisa que nós e nossos colegas conduzimos descobriu que, quando solicitados a identificar suas paixões, mulheres e homens tendem a citar interesses e comportamentos estereotipados femininos e masculinos," ela escreve num parecer para New York Times. "As mulheres são mais propensas a dizer que querem fazer arte ou ajudar as pessoas, por exemplo, enquanto os homens são mais propensos a dizer que querem fazer ciência ou praticar desporto."
Cheryan nem se preocupa em perguntar se isso pode ou não ser natural tendências – ela apenas assume que devem ser motivadas por pressões sociais e, portanto, na sua opinião, opressivas e restritivas. Mas ela parece olhar com bons olhos, em contraste, para os países não-ocidentais onde os estudantes são encorajados – não a seguirem as suas paixões – mas a escolherem a sua carreira por razões puramente instrumentais, tais como “renda, segurança no emprego, [ou] obrigação familiar.” Embora claramente não seja um conjunto de motivações mais “natural”, está fortemente implícito que estas são melhores, uma vez que produzem uma distribuição estatística de profissionais mais equilibrada por género.
Mas por que deveríamos dar prioridade a este resultado, fora do contexto, por si só? Na verdade, nossa ciência, capacidade tecnológica e nossas estatísticas deveriam ser usadas para nutrir o florescimento do espírito humano individual - absolutamente não o contrário. E, no entanto, tenho cada vez mais a sensação de que, no modelo organizacional da sociedade em recente evolução, o mundo não se destina realmente a servir de lar para os seres humanos. Em vez de, we espera-se que o façam - como Pat Cadigan coloca em seu romance cyberpunk de 1992, Sinners- “mudança para as máquinas”.
Os acontecimentos de 2020 turbinaram esse sentimento, à medida que a totalidade da infraestrutura pública foi virada de cabeça para baixo para servir o Leviatã da saúde pública. Locais de nutrição e refúgio para a alma humana – por exemplo, florestas, praias, parques, cafés, teatros, praças públicas e igrejas – foram isolados e fechados por decreto. O financiamento público foi destinado à compra de máscaras, luvas, desinfetantes para as mãos, protetores faciais, ventiladores e produtos farmacêuticos duvidosos – em suma, encheu os bolsos dos gananciosos golpistas corporativos e amigos corruptos. Entretanto, as pequenas empresas e os espaços comunitários considerados “não essenciais” foram forçados a parar de fornecer bens e serviços e a fechar as suas portas – por vezes permanentemente.
O mundo humano – o mundo da vida, do amor, da liberdade e da beleza – foi instruído a fazer uma pausa até que um vírus fosse erradicado. O tambor singular da vida pública, batido com uma marreta nos telhados, abafou todas as outras visões, sonhos e objetivos. A mensagem que recebemos – implicitamente ou não – foi que a nossa razão de existir era “combater o vírus”, “achatar a curva”. Qualquer que tenha sido o nosso raison d'être antes da pandemia – mesmo que fosse o próprio Deus – era agora considerado secundário em relação a este santo objetivo instrumental. Toda atividade que fosse considerada de ajuda à causa era necessária, enquanto qualquer coisa que fosse hipoteticamente poderia impedir que fosse banido.
Em vez de médicos, hospitais e funcionários de saúde pública servirem as pessoas, disseram-nos para “fazer a nossa parte” para “evitar que os hospitais fiquem sobrecarregados”. Disseram-nos para abandonarmos os nossos velhos modos de vida e transferirmos as nossas comunidades e rituais para plataformas tecnológicas controladas por máfias corporativas e agências governamentais censuradoras.
Nossas reuniões e aulas passariam a ser realizadas no Zoom; nossos negócios devem ocorrer em lojas online ou via Facebook, Instagram ou Whatsapp; e se quiséssemos recuperar a nossa ligação íntima com uma comunidade física, ou manter os nossos empregos, em muitos lugares, éramos obrigados a descarregar aplicações que invadiam a privacidade, ou a injetar nos nossos corpos novos produtos farmacêuticos fabricados por empresas antiéticas com conflitos de interesse óbvios. Em suma, as nossas vidas sociais e as nossas rotinas e tradições familiares foram mantidas reféns dos caprichos de entidades corruptas com fins lucrativos.
A infra-estrutura dos nossos bairros e as nossas paisagens familiares foram subitamente reequipadas para servir um propósito singular: o da higiene. Entre as máscaras, a fita adesiva nas entradas dos parques, as barreiras de Plexiglas, as setas de sentido único. e os tapetes antivirais, dificilmente se poderia afastar a sensação de que seres humanos foram os inconvenientes na corrida para esse fim utilitário e totalizante. Nosso mundo, pelo menos para mim, não parecia mais um lar; parecia mais um laboratório ou máquina estéril. E embora estas características tenham desaparecido em grande parte, a sensação de segurança e confiança enraizada na vida que outrora senti não regressou.
Ironicamente, a eliminação do sentido de lar da esfera pública comunal andou de mãos dadas com uma intrusão do anteriormente público na própria residência física. À medida que o mundo exterior se tornou cada vez mais inóspito para a alma humana e para os seus modos caleidoscópicos de ser, também as nossas habitações muitas vezes deixaram de ser um refúgio e um local de nutrição.
Colegas de sala de aula, professores, chefes e colegas de trabalho espiavam nossas vidas privadas via webcam e às vezes ousavam nos contar como organizar nossos quartos. Aqueles de nós que viviam com colegas de quarto, ou em pequenos apartamentos ou condomínios com “coworking” externo ou espaços comuns, podem ter encontrado os nossos hábitos pessoais microgeridos nos nossos próprios escritórios, salas de estar ou cozinhas. Uma conhecida minha expulsou sua colega de quarto por ter saído para comprar cerveja, apenas para voltar sem máscara.
Muitos cônjuges e filhos, presos em casa durante longas horas, em espaços apertados e sob coação, sofreram violência e abusos domésticos. Outros foram arrancados das casas das suas famílias, retidos em países estrangeiros ou separados dos seus pais, filhos e amantes. E em muitos países, as autoridades regionais e federais declararam limites sobre quem se poderia convidar para a sua casa e em que circunstâncias.
De repente, os espaços em que confiávamos tornaram-se familiares e os retiros confiáveis foram expostos pela sua verdadeira fragilidade e vulnerabilidade. Os lugares onde moramos e dormimos, muitos deles possuídos e alugados como mercadorias e governados por outros, ou partilhados com outros, podem não servir realmente como lugares “onde [o] espírito vive”.
Cada vez mais nos falta controlo sobre os espaços onde passamos a maior parte do nosso tempo, onde arrumamos as nossas coisas e construímos os nossos ninhos e onde vivemos as fases e momentos importantes das nossas vidas. Cada vez mais, esses espaços não possuem as propriedades de “casa”. E à medida que o mundo exterior se torna um lugar cada vez mais hostil e desumano – à medida que as nossas praças públicas são isoladas, os nossos parques nacionais fechados e os nossos espaços sagrados barrados ao acesso – onde nos resta ir para recuperar as nossas forças, quando este último bastião da lareira nos falha?
E. Nesbit, em seu livro de 1913, Asas e a criança, escreve sobre a importância de um sentimento de lar enraizado e sobre o que acontece quando esse refúgio sagrado sofre erosão ou é transformado em uma mercadoria com fins lucrativos:
Uma certa solidez de caráter, uma certa força tranquila e confiança crescem naturalmente no homem que vive toda a sua vida numa casa, cultiva todas as flores da sua vida num só jardim. Plantar uma árvore e saber que se você viver e cuidar dela, colherá frutos dela; que se você estabelecer uma cerca de espinhos, será uma coisa boa quando seu filho crescer e se tornar um homem - esses são prazeres que ninguém, exceto os muito ricos, podem conhecer agora. (E os ricos que podem desfrutar destes prazeres preferem circular pelo país em automóveis.) É por isso que, para as pessoas comuns, a palavra “próximo” está a deixar de ter qualquer significado. O homem que ocupa a villa parcialmente separada da sua não é seu vizinho. Ele se mudou há cerca de um mês e você provavelmente não estará lá no próximo ano. Uma casa agora é algo para se viver, não para amar; e um vizinho uma pessoa para criticar, mas não para fazer amizade.
Quando a vida das pessoas estava enraizada nas suas casas e nos seus jardins, elas também estavam enraizadas nos seus outros bens. E essas posses foram cuidadosamente escolhidas e cuidadas. Você comprou móveis para morar e para seus filhos morarem depois de você. Você se familiarizou com ele – era adornado com lembranças, iluminado com esperanças; ela, como sua casa e seu jardim, assumia então uma calorosa simpatia de íntima individualidade. Naquela época, se você quisesse ser inteligente, você comprava um carpete e cortinas novas: agora você “renova a sala de estar”.Se você tiver que mudar de casa, como acontece frequentemente, parece mais barato vender a maior parte de seus móveis e comprar outro que não seja removê-lo, especialmente se a mudança for causada por um aumento da fortuna [. . .] Tanta parte da vida, do pensamento, da energia, do temperamento é ocupada pela mudança contínua de roupas, casa, móveis, ornamentos, que uma agitação constante de nervos ocorre sobre todas essas coisas que não importam. E os filhos, vendo a inquietação de mosquito da mãe, eles próprios, por sua vez, buscam mudanças, não de ideias ou de ajustes, mas de posses [. . .] Coisas triviais, insatisfatórias, fruto de um perverso e intenso engenho comercial: coisas feitas para vender e não para usar.
Talvez muitos de nós sintamos uma sensação de hiraeth pela erosão rápida e contínua do nosso sentido de lar, tanto na esfera pública como na privada. Há uma sensação de que algo foi irremediavelmente perdido; que as nossas formas de ser, partilhar e comunicar no mundo estão a perder rapidamente a chama da sua existência. Há uma sensação de que entidades corporativas, objectivos impessoais e instrumentais e meras abstracções estatísticas estão a ter precedência sobre o que é comovente, o belo, o histórico, o mítico e o desejado. Há uma sensação de que a paixão e o calor estão sendo instruídos a ficar em segundo plano em relação a uma lógica indiferente e calculista; que os números que representam os indivíduos estão sendo valorizados acima das trajetórias evolutivas únicas dos próprios seres individuais.
Há uma sensação de que as histórias que contamos a nós mesmos sobre o mundo já não nos entrelaçam com a terra e com a nossa própria história; isto é, vivemos exilados dos ritmos da natureza, bem como das nossas próprias almas. Os nossos vizinhos já não são vizinhos, mas apenas transeuntes – e nós também o somos, quando podemos ser expulsos das nossas próprias casas pelos nossos colegas de casa, ou pelos nossos proprietários, a qualquer momento. A infra-estrutura das nossas vidas depende de uma série de dependências; as pessoas que guardam suas chaves são tudo menos confiáveis. No fundo dos nossos corações ansiamos por nutrição e camaradagem, mas os últimos bastiões destes sentimentos parecem estar a afundar-se no mar.
Algumas pessoas dizem que hiraeth é a indulgência mítica de uma obsessão romântica galesa pela melancolia. Mas a perda do sentido de lar não é pouca coisa. Afinal, não há nada que possa substituir os anos e anos passados imersos numa certa visão do mundo, vivendo ao ritmo de certos ritmos, passando por certos locais e rostos familiares, habituando-se a certos confortos e amenidades, e partilhando momentos com pessoas que talvez nunca mais vejamos, no mesmo contexto. Assim como não há nada, no final das contas, que possa aliviar a dor profundamente antinatural e completamente moderna de possuir uma alma humana apaixonada num mundo cada vez mais impessoal, inevitável e mecanicista.
Mas talvez esse não seja o fim necessário. A oficial de língua galesa Marian Brosschot, que mora na Patagônia, musas sobre Hiraeth"Pode ser bastante revelador, de certa forma. Pode lhe dar uma ideia de como você deseja viver, para que você possa tentar incorporar essa felicidade e trazê-la consigo para a vida cotidiana."
Hiraeth pode, de fato, incorporar um sentimento de melancolia romântico e, às vezes, excessivamente mítico. Mas também é uma saudade para algum tipo de visão evocada da memória ou da imaginação. Em suma, é uma saudade algo por algum tipo de ideal precioso - e esse ideal pode nos ajudar a começar a imaginar, e depois a construir, o tipo de mundo que do quero habitar.
Publicado sob um Licença Internacional Creative Commons Attribution 4.0
Para reimpressões, defina o link canônico de volta ao original Instituto Brownstone Artigo e Autor.